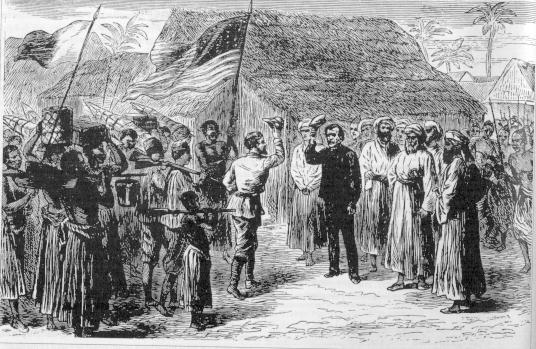Sobre estes trepidantes assuntos, começaria por dizer que me parece que o Carlos Novais procura explicações morais e éticas para factos. Ora, estes últimos vivem por si mesmos, independentemente desses possíveis fundamentos, muitas vezes para além ou até mesmo contra eles. Há muito tempo que se discute se Maquiavel era ou não maquiavélico; se ele se preocupava em descrever o que perscrutava que fosse a realidade, ou se opinava acerca do que gostaria que ela pudesse ser.
A realidade, porém, vive para além das intenções ? boas ou más ? dos seus protagonistas e intérpretes. Quando os liberais, entre eles Hayek, asseguram que os factos são mais o resultado dos nossos actos do que das nossas intenções é, em parte, isto que pretendem dizer. Quando os liberais sugerem que o governo deve ser, por razões de princípio e de método, sempre muito limitado, independentemente de quem o protagoniza, é por quererem precaver-se da realidade do ser, sabendo que ela implacavelmente se sobrepõe ao dever ser. Quando os liberais afirmam que é da natureza do poder corromper quem o exerce (ideia mais ou menos actualizada pela metáfora do «anel do poder» de Tolkien e da necessidade de o evitar a todo o custo) é para, em seguida, proporem a sua limitação objectiva e independente dos seus titulares, das suas intenções declaradas ou escondidas. Numa palavra, o individualismo metodológico liberal é a garantia mínima de um poder político soberano tolerável.
Sobre a realidade da comunidade internacional, tanto quanto julgo saber, não terá perdido actualidade aquela máxima marxiana de Bertrand de Jouvenel (um liberal francês, coisa rara e cuja existência, mesmo com Jouvenel e Tocqueville, ainda está por provar) de que «a História é luta de poderes». Para todos os efeitos, julgue-se ou não o homem como um liberal de direita, a verdade é que ele não estaria longe da razão. Reportando-nos somente às tentativas melhor ou pior sucedidas de hegemonia mundial (do mundo, então, conhecido) são de citar o Império Romano, o expansionismo muçulmano, a Respublica Christiana e o Imperium Mundii teocêntrico medieval, as pretensões europeias da França e da Inglaterra, o Império Português e o Tratado de Tordesilhas, Carlos V, Bonaparte, a Santa Aliança, os II e III Reich, o Império Soviético e, claro, o ?isolacionismo? dos EUA, ou seja, a Doutrina Monroe obviamente revisitada por Wilson, F. D. Roosevelt, Truman, Nixon, Reagan, Bush I e II.
Isto nada tem a ver, diga-se, com qualquer ideia de governo mundial. Tais utopias são, por natureza, avessas à realidade. Surgem, de tempos a tempos, nalgumas cabeças bem intencionadas e em meia dúzia de folhetos, grande parte mal redigidos. A hipótese de uma autoridade mundial que nos governasse a todos é, obviamente, uma impossibilidade metafísica. Nenhum liberal poderá acreditar nisso, sob pena de absolver o intervencionismo e a planificação. Do que falamos é numa ordem mundial pautada por princípios e regras comuns, isto é, por um código de valores essenciais a qualquer ideia de liberdade.
Liberal como sou, não admito o relativismo político, embora aceite o princípio de que as comunidades humanas devem livremente escolher os valores pelos quais querem guiar momentaneamente a sua existência. Porém, não me custa distinguir entre a liberdade e a opressão, a propriedade e o colectivismo, a livre expressão e a ditadura, o laicismo e o clericalismo político, a livre iniciativa e a planificação, a segurança e a insegurança, a paz e a guerra. Estes, os primeiros de todos estes pares, são valores políticos das sociedades livres (não necessariamente ideologicamente liberais) que existem por si, são objectivos e mensuráveis, e constituem um património que deve ser defendido. Não há aqui lugar a escolhas, nem à expressão democrática de sentimentos. Eu não sou livre de escolher entre "levar" com uma fatwa colectiva iraniana sob a forma nuclear, ou não. Não é matéria sindicável, ou que possa ser submetida a referendo, ainda que se diga, sem faltar à verdade, que o Irão nunca fez deflagrar nenhuma bomba nuclear. É uma opção que não subsiste à mais elementar ideia de liberdade. Se existe algum fundamento de justiça possível para a guerra, a subsistência da espécie, ou de uma comunidade, poderá ser o mais expressivo. Essa foi a lição que Churchill nos legou e parece-me que ainda hoje não está desprovida de actualidade.
Pergunta o Carlos Novais quem, então, pode exercer a faculdade de decidir sobre a paz e a guerra na comunidade internacional. A resposta é, como vimos, goste-se ou não, tão velha como o mundo: quem detém o poder. Tão simples quanto isto. Hoje, os EUA, ainda há bem pouco tempo, em larga parte do mundo, a URSS. Amanhã não sabemos. A sociedade internacional é, para todos os efeitos, um mercado livre e não intervencionado, onde a oferta e a procura se ajustam, sem que uma autoridade monopolista as consiga condicionar. Olhe-se para a SDN e para a ONU e retirem-se conclusões.
Quando Reagan chamava à URSS o «Império do Mal» para justificar a sua política externa de intervenção, era uma escolha valorativa - de valores morais e políticos - que nos sugeria. É com esta direita liberal que me identifico. Diga o Carlos Novais momento da história se revê, para nos podermos entender.